Como foi inventado o povo judeu?
"Embora
crescentemente desmentidos pela arqueologia, pela genética e pela
historiografia séria, os mitos de que se alimenta o sionismo continuam a
constituir a base em que assenta a reivindicação de legitimidade do estado
etnocrático, confessional, racista e colonialista de Israel. O «Estado do Povo
Judeu» assume-se como democrático. Mas a realidade nega a lei fundamental
aprovada pelo Knesset. Não pode ser democrático um Estado que trata como párias
de novo tipo 20 % da população do país, um Estado nascido de monstruoso
genocídio em terra alheia, um Estado cuja prática apresenta matizes
neofascistas."
Uma
chuva de insultos fustigou em Israel Shlomo Sand quando publicou um livro cujo
título- «Como foi inventado o povo judeu * - desmonta mitos bíblicos que são
cimento do Estado sionista de Israel
Professor
de Historia Contemporânea na Universidade de Tel- Aviv, ele nega que os judeus
constituam um povo com uma origem comum e sustenta que foi uma cultura
especifica e não a descendência de uma comunidade arcaica unida por laços de
sangue o instrumento principal da fermentação proto- nacional.
Para
ele o «Estado judaico de Israel», longe de ser a concretização do sonho nacional
de uma comunidade étnica com mais de 4 000 anos, foi tornado possível por uma
falsificação da história dinamizada no seculo XIX por intelectuais como Theodor
Herzl.
Enquanto
académicos israelenses insistem em afirmar que os judeus são um povo com um ADN
próprio, Sand, baseado numa documentação exaustiva, ridiculariza essa tese
acientífica.
Não há
aliás pontes biológicas entre os antigos habitantes dos reinos da Judeia e de
Israel e os judeus do nosso tempo.
O mito
étnico contribuiu poderosamente para o imaginário cívico. As suas raízes
mergulham na Bíblia, fonte do monoteísmo hebraico. Tal como a Ilíada, o Antigo
Testamento não é obra de um único autor. Sand define a Bíblia como «biblioteca
extraordinária» que terá sido escrita entre os séculos VI e II antes da Nossa
Era. O mito principia com a invenção do «povo sagrado» a quem foi anunciada a
terra prometida de Canaã.
Carecem
de qualquer fundamento histórico a interminavel viagem de Moisés e do seu povo
rumo à Terra Santa e a sua conquista posterior. Cabe lembrar que o atual
território da Palestina era então parte integrante do Egipto faraónico.
A
mitologia dos sucessivos exílios, difundida através dos séculos, acabou por
ganhar a aparência de verdade histórica. Mas foi forjada a partir da Bíblia e
ampliada pelos pioneiros do sionismo.
As
expulsões em massa de judeus pelos Assírios são uma invencionice. Não há
registo delas em fontes históricas credíveis.
O
grande exilio da Babilónia é tao falso como o das grandes diásporas. Quando
Nabucodonosor tomou Jerusalém destruiu o Templo e expulsou da cidade um
segmento das elites. Mas a Babilonia era há muito a cidade de residência, por
opção própria, de uma numerosa comunidade judaica. Foi ela o núcleo da
criatividade dos rabinos que falavam aramaico e introduziram importantes
reformas na religião mosaica. Sublinhe-se que somente uma pequena minoria dessa
comunidade voltou à Judeia quando o imperador persa Ciro conquistou Jerusalém
no VI antes da Nossa Era.
Quando
os centros da cultura judaica de Babilonia se desagregaram, os judeus emigram
para a Bagdad abássida e não para a
«Terra Santa».
Sand
dedica atenção especial aos «Exílios» como mitos fundadores da identidade
étnica.
As duas
«expulsões» dos judeus no período Romano, a primeira por Tito e a segunda por
Adriano, que teriam sido o motor da grande diáspora, são tema de uma reflexão
aprofundada pelo historiador israelense.
Os
jovens judeus aprendem nas escolas que «a nação judaica» foi exilada pelos
Romanos apos a destruição do II Templo por Tito em 70,e posteriormente, por
Adriano, em 132. Por si só o texto fantasista de Flavius Joseph, testemunha da
revolta dos zelotas, retira credibilidade a essa versão, hoje oficial.
Segundo
ele, os romanos massacraram então 1 100
000 judeus e prenderam 97 000.Isso numa época em que a população total da
Galileia era segundo os demógrafos atuais muito inferior a meio milhão…
As
escavações arqueológicas das últimas décadas em Jerusalém e na Cisjordânia
criaram alias problemas insuperáveis aos universitários e teólogos sionistas
que «explicam» a história do povo judeu tomando a Torah e a palavra dos
Patriarcas como referências infalíveis.
Os
desmentidos da arqueologia perturbaram os historiadores Ficou provado que
Jericó era pouco mais do que uma aldeia sem as poderosas muralhas que a Bíblia
cita. As revelações sobre as cidades de Canaã alarmaram também os rabinos. A
arqueologia moderna sepultou o discurso da antropologia social religiosa.
Em
Jerusalém não foram encontrados sequer vestígios das grandiosas construções que
segundo o Livro a transformaram no seculo XX, a época dourada de David e
Salomao,na cidade monumental do «povo de Deus» que deslumbrava quantos a
conheceram. Nem palácios nem muralhas, nem cerâmica de qualidade.
O
desenvolvimento da tecnologia do carbono 14 permitiu uma conclusão. Os grandes
edifícios da região Norte não foram construídos na época de Salomão, mas no
período do reino de Israel.
«Não
existe na realidade nenhum vestígio - escreve Shlomo Sand-da existência desse
rei lendário cuja riqueza é descrita pela Bíblia em termos que fazem dele quase
o equivalente dos poderosos reis da Babilonia e da Pérsia». «Se uma entidade
política existiu na Judeia do seculo X antes da Nossa Era, acrescenta o
historiador, somente poderia ser uma microrealeza tribal e Jerusalém apenas uma
pequena cidade fortificada».
É
também significativo que nenhum documento egípcio refira a «conquista» pelos
judeus de Canaã, território que então pertencia ao faraó.
O silêncio sobre as conversões
A
historiografia oficial israelense, ao erigir em dogma a pureza da raça, atribue
a sucessivas diásporas a formação das comunidades judaicas em dezenas de
países.
A
Declaração de Independência de Israel afirma que , obrigados ao exilio , os
judeus esforçaram-se ao longo dos seculos por regressar ao país dos seus
antepassados,
Trata-se
de uma mentira que falsifica grosseiramente a Historia.
A
grande diáspora é ficcional, como as demais. Apos a destruição de Jerusalém e a
construção de Aelia Capitolina somente uma pequena minoria da população foi
expulsa. A esmagadora maioria permaneceu no país.
Qual a
origem então dos antepassados de uns 12 milhões de judeus hoje existentes fora
de Israel?
Na
resposta a essa pergunta,o livro de Shlomo Sand, destrói simultaneamente o mito
da pureza da raça,isto é da etnicidade judaica.
Uma
abundante documentação reunida por historiadores de prestígio mundial revela
que nos primeiros seculos na Nossa Era houve maciças conversões ao judaísmo na
Europa, na Asia e na Africa.
Três delas
foram particularmente importantes e incomodam os teólogos israelenses.
O
Alcorão esclarece que Maomé encontrou em Medina, na fuga de Meca, grandes
tribos judaicas com as quais entrou em conflito, acabando por expulsa-las. Mas
não esclarece que no extremo Sul da Península Arábica, no atual Iémen, o reino
de Hymar adotou o judaísmo como religião oficial. Cabe dizer que
chegou
para ficar. No seculo VII o Islão implantou-se na região, mas, transcorridos
treze seculos, quando se formou o Estado de Israel, dezenas de milhares de
iemenitas falavam o árabe, mas continuavam a professar a religião judaica. A
maioria emigrou para Israel onde,alias,é discriminada.
No
Imperio Romano, o judaísmo também criou raízes,mesmo na Italia. O tema mereceu
a atenção do historiador Díon Cassius e do poeta Juvenal .
Na
Cirenaica, a revolta dos judeus da cidade de Cirene exigiu a mobilização de
várias legiões para a combater.
Mas foi
sobretudo no extremo ocidental da Africa que houve conversões em massa à
religião rabínica. Uma parcela ponderável das populações berberes aderiu ao
judaísmo e a elas se deve a sua introdução no Al Andalus.
Foram
esses magrebinos que difundiram na Península o judaísmo, os pioneiros dos
sefarditas que, apos a expulsão de Espanha e Portugal, se exilaram em
diferentes países europeus, na Africa muçulmana e na Turquia.
Mais
importante pelas suas consequências foi a conversão ao judaísmo dos Khazars, um
povo nómada turcófono, aparentado com os hunos, que, vindo do Altai, se fixou
no seculo IV nas estepes do baixo Volga.
Os
Khazars, que toleravam bem o cristianismo, construíram um poderoso estado
judaico, aliado de Bizâncio nas lutas do Imperio Romano do Oriente contra os
Persas Sassânidas.
Esse
esquecido império medieval ocupava uma área enorme, do Volga à Crimeia e do Don ao atual
Uzbequistão. Desapareceu da Historia no seculo XIII quando os Mongóis invadiram
a Europa, destruindo tudo por onde passavam. Milhares de Khazars, fugindo das
Hordas de Batu Khan, dispersaram-se pela Europa Oriental. A sua principal
herança cultural foi inesperada. Grandes historiadores medievalistas como Renan
e Marc Bloch identificam nos Kahzars os antepassados dos asquenazes cujas
comunidades na Polonia, na Rússia e na Roménia viriam a desempenhar um papel
fulcral na colonização judaica da Palestina.
Um
estado neofascista
Segundo
Nathan Birbaum,o intelectual judeu que inventou em 1891 o conceito de sionismo,
é a biologia e não a língua e a cultura quem explica a formação das nações.
Para ele, a raça é tudo. E o povo judeu teria sido quase o único a preservar a
pureza do sangue através de milénios.Morreu sem compreender que essa tese
racista, a prevalecer, apagaria o mito do povo sagrado eleito por Deus.
Porque
os judeus são um povo filho de uma cadeia de mestiçagens. O que lhes confere
uma identidade própria é uma cultura e a fidelidade a uma tradição religiosa
enraizada na falsificação da Historia.
Nos
passaportes do Estado Judaico de Israel não é aceite a nacionalidade
israelense. Os cidadãos de pleno direito escrevem «judeu». Os palestinos devem
escrever «árabe», nacionalidade inexistente.
Ser
cristão, budista, mazdeista, muçulmano, ou hindu resulta de uma opção
religiosa, não é nacionalidade. O
judaísmo também não é uma nacionalidade.
Em
Israel não há casamento civil. Para os judeus, é obrigatório o casamento
religioso, mesmo que sejam ateus.
Essa
aberração é inseparável de muitas outras num Estado confessional, etnocracia
liberal construída sobre mitos, um Estado que trocou o yiddish, falado pelos
pioneiros do «regresso a Terra Santa», pelo sagrado hebraico dos rabinos,
desconhecido do povo da Judeia que se expressava em aramaico, a língua em que a
Bíblia foi redigida na Babilonia e não em Jerusalém.
O
«Estado do Povo Judeu» assume-se como democrático. Mas a realidade nega a lei
fundamental aprovada pelo Knesset. Não pode ser democrático um Estado que trata
como párias de novo tipo 20 % da população do país, um Estado nascido de
monstruoso genocídio em terra alheia, um Estado cuja prática apresenta matizes
neofascistas.
O livro
de Shlalom Sand sobre a invenção do Povo Judeu é, além de um lucido ensaio
histórico, um ato de coragem. Aconselho a sua leitura a todos aqueles para quem
o traçado da fronteira da opção de esquerda passa hoje pela solidariedade com o
povo mártir da Palestina e a condenação do sionismo. Vila Nova de Gaia, 31 de
Dezembro de 2012. *Shlomo Sand. “Comment fut inventé le peuple juif”,
Flammarion, Paris 2010
Fonte:
Miguel Urbano Rodrigues - ODiário, Portugal
A
Origem do Dia Nacional do Samba
Fonte: CEDI Câmara dos Deputados
Um dos ritmos musicais mais
cultuados em toda a história da cultura brasileira e mundial, o samba teve o
seu Dia Nacional instituído em 1963 e marcado com comemorações em praça pública
desde 1972.
Mas por que justo no dia 2 de
dezembro? O motivo é curioso: Ary Barroso, um dos maiores compositores
brasileiros de todos os tempos compôs o samba Na Baixa do Sapateiro, que tinha
uma letra que exaltava a Bahia, sem nunca ter visitado nenhuma cidade baiana.
Mas na primeira vez que ele
pisou em Salvador, num dia 2 de dezembro, o vereador baiano Luís Monteiro da
Costa aprovou uma lei que declarava que aquele dia seria o Dia Nacional do
Samba, numa forma de homenagear o compositor. A partir desse acontecimento a
data tornou-se um dia para se comemorar toda a riqueza do samba, um dos
principais patrimônios culturais brasileiros.
Atualmente somente duas cidades
costumam comemorar o Dia do Samba: Salvador e Rio de Janeiro. Em Salvador
sempre tem grandes shows lá no Pelourinho, com artistas e cantores famosos e
com os sambistas locais. Alguns como Nelson Rufino, Walter Queiroz, recebendo
convidados como Paulinho da Viola, Elza Soares, Dona Ivone Lara. No Rio de
Janeiro a festa fica por conta do animadíssimo Pagode do Trem. No Dia do Samba
o pessoal se reúne lá na Central do Brasil, lota um trem inteirinho e vai
tocando e cantando até o bairro de Oswaldo Cruz, onde lá formam-se várias rodas
de Samba. Os vagões vão sempre lotados e em cada vagão vai um grupo que agita
as rodas de Samba do Rio de Janeiro, incluindo grupos com sambistas famosos e
locais. Alguns vagões levam os repórteres e outros da mídia que aparecem por lá
para registrarem o fato. A Beth Carvalho costuma aparecer por lá para dar
aquela força.
O Dia
da Baiana de Acarajé (25/11) é comemorado com grande estilo na Bahia
Fonte:
Tribuna da Bahia
A Bahia festejou o seu principal símbolo, a baiana do
acarajé, nesse fim de semana (24 e 25/11/12), com muito samba pelas ruas do
Centro Histórico de Salvador. O 3º Seminário de Formação de Baianas, no
Memorial, localizado na Praça da Cruz Caída (antigo Belvedere da Sé). Recebeu entre os palestrantes o historiador
Jaime Sodré, a Yalorixá Jaciara Ribeiro, representantes do Ministério da
Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a
secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Vera Lucia da Cruz
Barbosa.
No domingo (25), Dia Nacional da Baiana, instituído desde
2010, uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1704), no
Pelourinho, abriu as comemorações, a partir das 9h.
Após a celebração, homenageados e convidados sairam em
cortejo pela Ladeira do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Praça da Sé,
acompanhadas de bandas tocando samba, até a Praça da Cruz Caída, onde a
programação prosseguiu com um almoço e mais festa com os grupos Samba de Roda
Urbano, Samba do Tororó, Bicho da Cana, Catadinho do Samba, Samba de Roda
Fogueirão e Samba Quem Bossa.
Com suas vestes brancas, pulseiras e colares, saia rodada e
torço na cabeça, a baiana é, desde meados do século passado, a melhor
representante do povo da Bahia para o turismo. Sorriso largo e fitinhas do
Bonfim nas mãos, ela recepciona turistas nos aeroportos e portos das cidades,
participa de festas de largo e carnavais, dentro e fora do país, e representa o
Brasil em eventos nacionais e internacionais.
De acordo com a Associação das Baianas de Acarajé, Mingau,
Receptivo e Similares no Estado da Bahia (ABAM) existem na Bahia,
aproximadamente, seis mil profissionais (em torno de três mil em Salvador) que
vivem e sustentam suas famílias através do ofício de baiana (ou baiano) do
acarajé ou do receptivo turístico;
A história da baiana do acarajé começa no período da
escravidão, quando os negros chegaram à Bahia , a partir do século XVI, com
seus costumes e religião. O acarajé e o abará, principais produtos do tabuleiro
da baiana, eram, ao mesmo tempo, alimentos para o corpo e para o espírito,
preparados nos terreiros de Candomblé para cultuar os orixás Iansã e Xangô.
Já no final do século XIX, as mulheres tinham a permissão
(dos senhores) para sair no final do dia, com o tabuleiro na cabeça (protegida
por um torço de pano da costa), para mercar os bolinhos, feitos de massa de
feijão fradinho descascado, cebola, gengibre e camarão. Através de um canto
tradicional, iam chamando o povo para comprar e comer, usando a expressão em
tom de canto "acará jê" (de akàrà, bola de fogo, e jê, vender).
 Depois da abolição, em 13 de maio de 1888, a tradição
continuou. Até meados da década de 70 do século XX, as baianas mantinham o
costume de vender o produto somente à tarde e à noite. Depois que o acarajé
caiu no gosto do turista, passou a ser um dos cartões de visita da culinária
baiana e a ser vendido durante o dia. Depois da abolição, em 13 de maio de 1888, a tradição
continuou. Até meados da década de 70 do século XX, as baianas mantinham o
costume de vender o produto somente à tarde e à noite. Depois que o acarajé
caiu no gosto do turista, passou a ser um dos cartões de visita da culinária
baiana e a ser vendido durante o dia.
O dia a dia
Rita dos Santos, presidente da ABAM, revela que o dia-a-dia
de uma baiana é igual ao de qualquer outro trabalhador brasileiro: acordar bem
cedo para preparar os quitutes e doces que compõem o tabuleiro, cuidar da casa,
da família, e arrumar as vestes típicas, agora obrigatórias para exercício do
ofício de baiana.
O tabuleiro tradicional – também protegido pelos tombamentos
do Iphan, do Ipac e pela lei municipal 12.175, de 1998 – deve ter, além do
acarajé e do abará (bolinho cozido e enrolado em folha de bananeira), os
complementos (vatapá, caruru, camarão seco, salada e pimenta), as cocadas (três
variedades), bolinho de estudante, e passarinha (baço de boi cozido e cortado
em tiras).
Outra tarefa é cuidar da vestimenta, que deve ser composta
por torço (cabeça), bata, camisu ou "blusa de criola" bordada ou de
rendas, saia e sandália, quando a baiana trabalha no tabuleiro, e os trajes
mais coloridos (cores dos "orixá") para a baiana de receptivo,
explica Jacilene Monteiro dos Santos, coordenadora executiva da ABAM e baiana
de receptivo e venda de mingau.
As duas categorias são igualmente respeitadas e importantes
no mercado: enquanto a quituteira preserva a tradição culinária, a de receptivo
e eventos "expõe para o mundo a beleza e a tradição da Bahia",
ressalta Rita Santos.
Tradição de gerações
O ofício geralmente passa de mãe para filhos. Tânia Bárbara
Nery, que herdou o tabuleiro de Adelina dos Santos, a Preta do Farol, que, por
sua vez, o recebeu de Beatriz dos Santos, é uma das baianas que tem a
felicidade de ter toda a família envolvida pelo ofício de baiana.
Ela trabalha com os dois filhos – Anderson Nery, de 25, e
Ana Cássia, de 30 anos, e já prepara a neta, Isis, de quatro anos, filha de
Anderson, cuja brincadeira é vestir-se de baianinha e encantar os turistas no
Farol da Barra, quando acompanha a família ao tabuleiro. "Minha satisfação
é ver que os meus dois filhos assumiram, e a minha neta está chegando para
manter a tradição".
Projeto
“Memorial Alakija”... Origem e
destino de escravos
Fonte: BBC Brasil / por: Ligia
Hougland
Uma jornalista brasileira
radicada nos Estados Unidos se dedica, há mais de uma década, à missão de
registrar e divulgar a história de vítimas da escravidão e o destino de seus
descentes.
O objetivo de Ana Alakija, que
é descendente de um clã de um antigo reino iorubá, o segundo maior grupo étnico
nigeriano, é destacar aspectos pouco explorados pelo ensino oficial de história.
"Peço licença aos meus
antepassados africanos para quebrar a tradição de passar nossa história
oralmente e apresentar suas memórias de forma mais concreta", disse à BBC
Brasil.
Desde 1997, a jornalista vem
reunindo informações e documentos coletados no Brasil e também na África -
especificamente em Lagos, na Nigéria - para onde um grupo de africanos e
descendentes voltou após a abolição da escravatura.
O esforço resultou na produção
de um documentário, um livro e uma série de exposições com fotos, documentos e
artesanatos que ilustram a trajetória do grupo interconectado pelo Atlântico.
Escravidão
no Brasil
Estima-se que metade dos cerca
de 13 milhões de africanos capturados para servirem de escravos nas Américas
tenham sido enviados para o Brasil.
Ana se concentra na história
que não é ensinada nas escolas, mostrando as conquistas e as contribuições
intelectuais, comerciais e políticas dos africanos à sociedade, antes e depois
da escravatura.
Um número expressivo de
vítimas, por exemplo, fazia parte da elite política e religiosa iorubá, e esses
indivíduos foram vendidos como escravos porque eram prisioneiros de guerra.
Isso representa uma perspectiva histórica diferente da ideia de servidão
passiva dos escravos que é geralmente contada nas salas de aula, segundo a
pesquisadora.
Muitos dos escravos brasileiros
alforriados reconquistaram o status social de seus antepassados, tornando-se
médicos, advogados, comerciantes, políticos e donos de propriedades, tanto na
África quanto no Brasil.
Estima-se que metade dos 13
milhões de africanos capturados na África vieram ao Brasil.
Um exemplo do fenômeno é o
destino da própria família Alakija, que conectou os dois continentes mesmo após
a abolição da escravatura, em 1888.
"Meus bisavós eram
vizinhos na África, mas só se conheceram no Brasil. Meu bisavô reconquistou seu
título de nobreza e dinheiro quando voltou à Nigéria, estabelecendo lá uma
plantação de algodão com o que aprendeu no Brasil", disse Ana.
O avô da jornalista, Maxwell
Alakija, visitou o Brasil na infância e se apaixonou pelo país. No início do
século 20, o filho do próspero fazendeiro decidiu estudar advocacia em
Salvador, que já contava com uma renomada faculdade de direito. Na Bahia, ele fez
carreira como advogado e teve três filhos. O pai de Ana e sua irmã se dedicaram
à medicina, e o irmão deles optou pela engenharia civil.
O objetivo da historiadora é
que a preservação e divulgação do papel dos negros na África e nas Américas
contribuam com a continuidade dos vínculos originalmente estabelecidos entre
esses continentes. "Esse diálogo pode ajudar a criar um entendimento mútuo
para os relacionamentos entre brancos e negros nas sociedades modernas e
multiculturais", disse Ana.
O projeto da jornalista é
intitulado Memorial Alakija e já está programado para ser promovido nos
próximos meses em eventos no Brasil, Nigéria, Estados Unidos e alguns países
europeus. "Quero ter um sentimento de missão cumprida", afirma Ana.
REPRESENTAÇÕES DA LUTA E DA RESISTÊNCIA NEGRA NO
QUILOMBO MANOEL CONGO NA LITERATURA DE CORDEL
Patrícia Cristina de Aragão
Araújo (UEPB)
patriciacaa@yahoo.com
Introdução
Historicamente,
os quilombos foram espaços de resistência e de sociabilidades de negros/as, em
sua luta pela liberdade devido à opressão a que estavam expostos na sociedade
brasileira. Esses espaços consistiram em um importante agrupamento de homens e
de mulheres que, em busca de sua liberdade e em oposição ao regime escravista
constituíram formas e modos de viver e articular a luta contra a dominação
escravista e foram construindo formas de organização social e cultural, laços
de compadrio e modos de empreender as lutas pela liberdade, a partir da qual
firmaram seu lugar social de pertença, pois neles eram configuradas diferentes
relações sociais.
Os quilombos
consistiram, pois, em lugares em que negros/as, na condição de escravizados
organizaram-se e empreenderam suas lutas contra as diversas formas de violência
a que estava posto esse segmento social, no Brasil, tanto no período colonial quanto no imperial. De acordo com Costa, a formação de
quilombos em todas as colônias e países do Novo mundo constituiu-se em
estratégia utilizada pelos africanos que, escravizados, ansiavam por liberdade
e, assim, instituíram alternativas ao sistema escravista hegemônico e, então,
vigente. O principio subjacente à formação de quilombo constituiu-se na busca
de lugares de difícil acesso que propiciassem o estabelecimento de barreiras
estruturais, que tanto podiam ser naturais quanto sociais. Os agrupamentos
humanos aquilombados pretendiam, dessa forma, impedir o contato do mundo branco
e escravista com o mundo negro vivendo em liberdade. (2008: 25)
O quilombo
foi um espaço de reivindicação dos escravizados frente a uma sociedade excludente, discriminatória e espoliadora de seus direitos. Nosso objetivo é,
então, com base no texto poético de cordel com um olhar que procura articular a
literatura e a história, mostrar o trajeto traçado por Manoel Congo na formação
do Quilombo de Manoel Congo, e as formas que ele empreendeu em prol da
liberdade e da emancipação de escravizados, de maneira a conseguir congregar
diversas pessoas em torno de sua proposta ideológica. Nessa perspectiva, este
estudo articula a relação entre cordel e negritude, por meio do enfoque dado à
representação dos conflitos sociais, no Brasil dos oitocentos, que vivia sob o
manto da escravidão, e no qual os quilombos funcionaram como espaços de luta,
de articulação e de vivência experienciais de escravizados quilombolas.
Nesse
sentido, convém lembrar que, no contexto da sociedade brasileira, os conflitos sociais produziram, em temporalidades históricas distintas, inúmeras facetas e
assumiram diferentes dimensionalidades na contextura espacial onde se desenvolveram Assim, compreender a dimensão e a configuração desses conflitos
nas representações literárias é fundamental, uma vez que, a partir delas, é
possível depreender os modos como produziram protagonismos, considerando que os
sujeitos neles envolvidos propiciaram diferentes leituras, o que,
consequentemente, repercutiu nas narrativas escritas elaboradas sobre eles
mesmos. Enfim, os fios e as tramas de que se tecem as narrativas nas
textualidades literárias nos permitem refletir sobre a possibilidade de se
reescrever o conflito, com base nos saberes e práticas que têm no texto
literário suas potencialidades.
Articular, no
campo literário, a discussão sobre conflitos sociais, na confluência das
relações raciais, é algo significativo pelo modo como foram elaboradas variadas
produções acerca dessa temática. Observado esse aspecto, é mister perscrutar,
pelo viés literário, negros/as e seus envolvimentos em revoltas e rebeliões na
luta pela liberdade e pela emancipação social, uma vez que a luta desse
segmento étnico pela emancipação da condição de escravizados/as ganhou contorno
e notoriedade nos estudos socioculturais. Através dessa abordagem, conhece-se
um perfil das revoltas, das insurreições e das resistências tanto individuais
quanto coletivas de segmentos sociais à margem das estruturas hegemônicas de
poder, delineando, assim, diferentes trajetórias para a questão dos
anseios, das lutas e das reivindicações de determinadas minorias no Brasil.
Como o objetivo deste trabalho é o de se deter,
especificamente, em uma dessas minorias – negros e negras – paulatinamente
excluída da história, merecem nossa atenção as produções literárias que representaram
a realidade social, cultural e histórica de homens e de mulheres negros/as,
africanos/as e afrodescendentes, na contextura da sociedade brasileira,
representando-os em diferentes contextos e notabilizando a maneira como foram
visibilizados, ou não, na esfera social.
A poética do cordel e a questão da
negritude: tecendo olhares sobre o quilombo
O saber
literário deu sentido e significado a negros/as, através da interpretação social
de escritores, poetas, contistas, que utilizaram essa forma de produção do conhecimento
para mostrar como no cotidiano da vida social brasileira é possível tecer não
só narrativas sobre homens e mulheres negros/as, mas também as visões construídas no âmbito literário sobre suas histórias. Nessa perspectiva, os cordéis podem
ser tomados como um rico espaço de produção sobre os conflitos sociais,
porquanto registram um repertório de temas cujo enfoque, dentre os vários
possíveis, reporta-se à negritude brasileira, em seus lugares sociais de
inserção na realidade histórica de nosso país (Abreu 1999).
Galvão
(2001), ao analisar o cordel e sua trajetória no Brasil, em particular, no Nordeste
mostra que as histórias dos cordéis foram e continuam sendo alimentadas não
apenas pelo imaginário e fantasioso, no campo ficcional. Mas, sobretudo, por
acontecimentos e eventos que ocorrem no cotidiano e que, desde sua introdução e
expansão pelo Nordeste, elas ganham contornos devido à maneira como os poetas
narram as histórias de homens e mulheres. Em seu livro, História do Brasil
em Cordel, Mark Curran (2001), articulando os acontecimentos que fizeram
parte da realidade histórica e social brasileira, mostra como, do século XIX
até o XX, essa literatura popular em verso e impressa em folhetos falou do
Brasil, de sua gente. Como cronistas do cotidiano (Chartier 2002), os
cordelistas apropriando-se do que acontecia no mundo vivido representavam, de
maneira versada, as realidades do contexto social. Curran mostra, ainda, que “o
cordel, mais uma vez, é caracterizado como um meio híbrido: popular, em termos
de produção, disseminação e consumo” (2001: 19). Ou seja, é consumido por um
público muito amplo, com uma variedade de interpretação dos acontecimentos, mas
sem perder sua capacidade de, através da rima e do verso, representar os
aspectos da realidade cultural, social e política, que fazem parte da história
de nosso país.
A literatura
de cordel produziu modos e formas que significaram a ação humana no tempo; o
cordelista, através de sua leitura da realidade social, perscruta sobre ela e
imprime, em seu fazer poético, um sentido que notabiliza histórias de pessoas,
muitas vezes silenciadas e esmaecidas pela historiografia oficial e que, nos
textos de cordelistas, passaram a ter notoriedade. Assim, falar da epopeia
humana, em seus diversos matizes, tem sido um modo de comunicar, informar e
mostrar a vida como um texto a ser lido e interpretado através de diferentes
tessituras (Ricouer 1994).
Atuando na vida cultural brasileira, o poeta de cordel
expressa, em seus folhetos, sua sensibilidade diante do mundo. Ele também
imprime nesses poemas, de forma crítica ou mesmo conservadora, características
próprias de seu fazer poético. Um fazer calcado em experiências de vida, que
se materializam nos textos e nos versos.
A literatura
de cordel expressa um modo de comunicar as histórias cotidianas, gerando significado e relevância, nas leituras do social. Ela é também uma maneira de
estabelecer diálogos entre os acontecimentos do campo social e a realidade cotidiana de homens e mulheres representadas/os no decurso da história. Isso acontece porque compreendemos que ela tem um papel social, cujas potencialidades se
apresentam na discussão de temas históricos, nas tramas, nos enredos e nas narrativas criados pelos poetas de cordel. Por sua versatilidade, a literatura
de cordel é um campo fértil de produção de histórias de vidas humanas, que são
capturadas pelos poetas cordelistas e adquirem relevância nas suas produções
poéticas, servindo-lhes de substrato às rimas e aos versos.
No cordel,
essas variações acompanham as transformações que ocorrem no mundo social, e
para imprimir nele os acontecimentos do cotidiano, o poeta cordelista procura
estar atento aos acontecimentos históricos que estão ocorrendo para, então
reinventá-los nos folhetos. Nessa perspectiva, o poeta, tendo como material de
estudo os acontecimentos reais, materializa-os com maestria nos folhetos,
inventa-os nos cordéis, utilizando o lúdico, em um processo de invenção a que constantemente o “real” é submetido e por meio do qual é transfigurado,
reinventado. Através do seu versejar, o poeta popular revela o mundo social na
concretude das rimas e dos versos de cordel e informa ao povo os acontecimentos
presentes e passados. Porém também intervém ao se posicionar frente aos
acontecimentos referentes aos cenários local, regional, nacional e, até mesmo,
mundial.
A vida
nordestina parece ser o palco e a fonte dos folhetos. Embora não haja restrições temáticas, essa produção sempre esteve fortemente calcada na realidade social
na qual se inserem os poetas e seu público, desde as primeiras produções (Abreu
1999: 119). Na região Nordeste, celeiro fértil onde se disseminou e ganhou
projeção nacional e mundial, o cordel alcançou grandes patamares. O perfil da
região colaborou para que os cordéis florescessem e adquirissem
características específicas; repentistas e cantadores de viola são, em
princípio, os grandes divulgadores dos folhetos de cordel (Abreu 1999). Em
outros termos, foi com o hábito secular de contar história que o cordel passou
a florescer. A relação entre o contador de história e o cantador de cordel é
muito íntima, não só porque o público de ambos é o mesmo, mas também porque a
maioria das histórias contadas e cantadas em versos advém das classes populares
(Lopes 1982).
Todavia,
transitando no meio informativo, entre comunidades rurais, e até mesmo no meio
educacional pelo caráter alfabetizador que adquiriu entre muitas comunidades
o cordel foi, gradativamente, ganhando outros espaços, propagando-se no meio
citadino até chegar às escolas e às academias, adquirindo feição moderna e
versando também sobre temas modernos, como tecnologia, diversidade e ecologia.
Enfim, o cordel subsiste porque se moderniza, renova-se, reinventa-se e se
adapta às metamorfoses de cada época. Isso é perceptível tanto nas
temáticas trabalhadas por alguns poetas quanto na adequação de muitos deles às
mudanças surgidas, principalmente a partir do ingresso dos folhetos no mundo
virtual, de maneira que o cordel pode ser tomado com uma espécie de documento
para registrar as metamorfoses por que passa determinada sociedade ou cultura.
Muitos
cordelistas nordestinos versaram sobre a questão de negros/as nas suas
produções, caso de Manoel Monteiro, Antônio Heliton de Santana, Hélvia Calou,
Varneci Nascimento, entre tantos outros que se utilizaram de sua escrita
poética para chamar a atenção sobre a condição social de negros/as na nossa
sociedade. Claro que não podemos esquecer que, ao ser construído, o texto de
cordel envolve filtrações perceptivas que, inicialmente, podem ser verificadas
quando o poeta faz sua leitura do social a partir, por exemplo, dos meios de
comunicação que dão sentido às questões que ele problematizou e deseja
elucidar. Posteriormente, ele tece sua compreensão e interpretações para, por
fim, colocar na produção cordelina a sua visão acerca do olhar tecido sobre os
acontecimentos que julga importantes e inspiradores.
Nos textos poéticos,
homens e mulheres negros/as, em seus lugares sociais de pertenças, são
dimensionados de modo a protagonizar múltiplas histórias. Em nosso ver, ao
versarem sobre esses sujeitos sociais, os cordelistas estabeleceram uma conexão
com seu tempo e demarcaram outras maneiras de ver e vivificar a luta e a
resistência desses sujeitos excluídos da historiografia oficial por liberdade e reconhecimento de seu papel social.
Nas complexas
redes de relações sociais e culturais, tecidas no cotidiano, os saberes e as
práticas produzidos encontram no cordel sua visibilidade, já que essa forma de
poesia narrativa em verso fala, quase sempre, das pessoas em suas atividades cotidianas,
cujas vivências cotidianas fazem com que sua arte e sua forma de produzir
conhecimento sobre uma tipologia diversificada de temas encontrem, nas táticas
de resistência, sua forma de subsistir. Nesse sentido, o poeta de cordel
compreende, interpreta, capta e põe em relevo os sujeitos sociais, histórica ou
ficcionalmente nos folhetos.
Dia do Professor e da Professora a Bonita Missão de Ensinar
O Dia do Professor e da Professora
é comemorado no dia 15 de outubro (dia da educadora Santa Tereza D'Ávila).
Nesse dia, em 1827, D. Pedro I baixou um Decreto Imperial que criou o Ensino
Elementar no Brasil. O decreto estabelecia que "todas as cidades, vilas e
lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras".
Esse decreto tratava de muitas
coisas: descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias
básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores
deveriam ser contratados. A ideia, inovadora e revolucionária, teria sido ótima
- caso tivesse sido cumprida.
Foi somente em 1947, 120 anos
após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado
ao Professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola da Rua Augusta, onde
existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como “Caetaninho”. O longo
período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com
apenas 10 dias de férias em todo esse período. Quatro professores tiveram a
ideia de organizar um dia de parada para se evitar a estafa - e também de
congraçamento e análise de rumos para o restante do ano.
O professor Salomão Becker
sugeriu que o encontro se desse no dia de 15 de outubro, data em que, na sua
cidade natal, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena
confraternização. Com os professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino
Busko, a ideia estava lançada, para depois crescer e implantar-se por todo o
Brasil.
A celebração, que se mostrou um
sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser
oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de
14 de outubro de 1963. O referido decreto definia a essência do feriado: “Para
comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão
promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade
moderna, fazendo participar os alunos e as famílias”.
Fonte: www.portaldafamilia.org
História do Dia das Crianças
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
“A criança tem o direito de ser
compreendida e protegida, e devem ter oportunidades para seu desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em
condições de liberdade e dignidade. As leis devem levar em conta os melhores
interesses da criança.”
A frase acima é o segundo item
da chamada Declaração dos Direitos da Criança.
O Dia Mundial da Criança é oficialmente 20 de novembro, data que a ONU reconhece como Dia Universal das Crianças por ser a data em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. Porém, a data efetiva de comemoração varia de país para país.
Em Portugal, o dia das crianças é festejado no dia 1 de junho, pois o mês de maio homenageia Maria, mãe de Jesus. O dia da criança foi comemorado, no mundo inteiro a 1 de junho de 1950.
No Brasil
Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de "criar" o dia das crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924.
Mas somente em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a "Semana do Bebê Robusto" e aumentar suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde então o dia das Crianças é comemorado com muitos presentes. Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança, para aumentar as vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia para a promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto. A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de brinquedos no Brasil.
|
 A GRANDE RAINHA NZINGA DE ANGOLA-1
A GRANDE RAINHA NZINGA DE ANGOLA-1Os sacerdotes estremeceram de medo quando analisaram o futuro de um bebê que nascia em 1582, em Ndongo, antigo nome de Angola. Para o pai, o Rei Jionga Ngola Kiluanji, dos Mbundos ou Jagas, eles não esconderam suas previsões: o bebê iria atrair rios de sangue em sua trajetória, esses rios de sangue iam escorrer sem fim...
Só homens fortes e decididos iriam se juntar ela, e nunca mesmo fracos, traidores, intrigantes, indigentes, desertores, acrescentaram eles.
Os sacerdotes fizeram essa meditação em frente ao pequeno relicário com os ossos dos ancestrais, que cada um carregava consigo.
Muitos deles sentiram dificuldade para interpretar esses signos invocatórios, descritos como desconcertantes. Uma interpretação de um dos signos indicava que se caso ela chegasse a idade adulta e se tornasse rainha, os rios do reino inundar-se-iam com o sangue de um sem número de vítimas.
O Rei não se importou com as previsões.
O bebê, em suas mãos, sorriu e o Rei sentiu que aquela filha que nascia iria cumprir um papel especial que ele e seus descendentes não tinham conseguido: expulsar os portugueses colonialistas das sagradas terras de Ndongo.
Não importava para ele se o executor desta façanha da Família Real fosse mulher, o importante era que o bebê feminino que estava em suas mãos lhe acenava, lhe dizia no olhar que iria cumprir tudo que ele queria.
No entanto, outros sacerdotes também foram consultados e afirmaram autoritariamente que ela seria a mulher mais poderosa de Angola, perita no arco e na flecha, sagaz, ousada e destemida, que honraria a Arma Real da família Kiluanji. E que seria implacável com os invasores da terra dos Jagas, a tribo originária que habitava aquela parte de Angola.
Assim, Nzinga, a grande rainha dos Jagas, nasceu quando foi seu pai fora derrotado pelos portugueses numa das mais extensas guerras coloniais de Angola para se livrar dos invasores estrangeiros.
Esses religiosos Mbundos informaram para o pai de Nzinga que a Nação seria invadida por homens brancos provindos dos mares através dos muitos rios que regavam a Nação e que haveria doenças, fome, guerras, tristezas e miséria em Angola.
Kiluanji, o pai de Nzinga, então, pediu aos religiosos para que usassem de suas habilidades e influência junto aos deuses de modo a garantir que sua filha viesse a ser não apenas uma competente governante na defesa do Reino, mas que também viesse a ter um coração compassivo para com os seus súditos.
Nos primeiros anos de vida, a jovem princesa foi treinada pelo pai para a liderança e para a guerra. Poderia ser uma atitude estranha do Rei em querer tornar uma mulher uma chefe militar do reino.
Nzinga fora criada entre os guerreiros poderosos do Reino.
Por conseguinte, se distinguiu nos exercícios militares como a execução de incríveis feitos de coragem tais como lutas corpo a corpo, rapidez no ataque aos oponentes e destreza no arremesso de armas, conquistando respeito, assim , temor e a admiração de seu súditos.
 Ninguém podia entender como uma mulher nascera com tantas habilidades guerreiras tidas como exclusivas do masculino. Mas ela, não, combinava as duas coisas muito fortes: era mulher e guerreira, e sentia imensa satisfação com essas características.
Ninguém podia entender como uma mulher nascera com tantas habilidades guerreiras tidas como exclusivas do masculino. Mas ela, não, combinava as duas coisas muito fortes: era mulher e guerreira, e sentia imensa satisfação com essas características.Além disso, segundo consta, não era linda, mas suas coxas, seios e tronco chamava muita atenção dos homens, que queriam possuí-la, mas se reprimiam, pois, se tratava da Rainha.
Parece que era também fundamentalista, pois, adestrou suas tropas de modo que combatessem até o último homem.
Consequentemente, muitos se converteram em verdadeiras máquinas de guerra tendo como símbolo uma mulher a quem eles dedicavam fidelidade até a morte.
“ Essa liderança da Rainha sobre seus homens é pouco ou nada estudado, pois, chama atenção o fato dela exprimir essa liderança apenas com o poder real. Como descendente de Mbundos ou Jagas, ela era especialista em um tipo de faca afiada com três palmos de comprimento com a ponta envenada. Muitos inimigos, no campo de batalha, onde comandou diversas ações contra os portugueses invasores, caíram aos seus pés atingidos mortalmente pela sua faca jaga”, diz Roy Glasgow em “Nzinga”( Perspectiva, SP, 1982).
Outro fator interessante é que, segundo Glasgow, na guerra para expulsar os invasores de Angola, Nzinga demonstrou surpreendentemente outra habilidade: a de Inteligência. Assim, montou uma rede espiões para se antecipar aos passos do inimigo como fizera muitos generais da Antiguidade.
Em termos de artes militares, a Rainha ampliou a importância do arco. Na tradição Mbundo-Jaga, o arco simbolizava a realeza. Na transferência de poder entre governantes, o recebimento do arco pelo Rei ou Ngola que assumia o cargo legitimava seu comando.
Por conseguinte, ela concedia arcos aos membros de seu exército que tivessem executado excepcionais atos de bravura durante os combates.
“ Suponha-se que a posse de um arco tornava invencível seu recebedor, e embora a experiência pudesse mostrar o contrário, os soldados quase nunca esmoreciam em sua audácia e persistência em adquirir um arco das mãos da Rainha. Outro fator de pressão sobre seus homens foi igualar a covardia à traição contra a qual a penalidade era, em geral, a morte”, segundo Gaslgow.
As principais armas dos guerreiros de Nzinga eram o arco e a flecha, o machado, um escudo enorme que cobria praticamente o corpo todo e a mbilam, um tipo especial de faca afiada com três palmos de comprimento com a ponta envenenada. O machado tinha a forma de uma meia-lua e um homem que soubesse usar bem poderia, de um só golpe, abrir o tórax de um adversário. Seus batedores trabalhavam incessantemente no intuito de descobrir as intenções e os movimentos das forças inimigas, inclusive o poderio dos exércitos lusos e os planos diplomáticos e estratégicos dos governadores e dos capitães-gerais.
A GRANDE RAINHA NZINGA DE ANGOLA-2
Desde primeiros anos de idade, Nzinga, a Rainha de Angola, no século XVI, testemunhou violentas guerras sob o comando de seu pai contra os europeus. Neste momento, Nzinga compreendeu que ele a preparara para estas guerras, ou seja, expulsar os invasores do Reino. Suas experiências de criança nutriram especial antipatia aos portugueses. Estas guerras formataram a princesa em sua determinação férrea de expulsá-los das terras Jagas, de onde descendia.
Nzinga contava com 35 anos quando seu pai faleceu em 1617.
Essa morte, segui-se inevitável luta pelo poder entre ela e seu irmão por cerca de 30 anos. O irmão de Nzinga era chamado de Ngola Mbandi. Era fraco, covarde, mas fazia muita articulação venenosa para impedir que a irmã assumisse o trono.
Ele, então, espalhou boatos segundo os quais se ela assumisse poderia haver terror, tragédia e calamidade no reino. Ou seja, estava se lembrando das previsões que os sacerdotes jagas fizeram quando Nzinga nascera.
Mas ele não podia assumir, pois, era mais novo que Nzinga. Ela era legítima herdeira do trono por ser mais velha, segundo as tradições jagas. Impotente ante às leis Mbundos-Jagas, o irmão de Nzinga matou o único filho da irmã nesta guerra pelo trono.
Neste sentido, ela, antes ligada a crianças, ficou uma mulher fria, e transferiu sua afeição ao filho para irmã mais moça, Moambo, cuja educação e bem-estar ocupou muita parte de seu tempo.
Após uma interrupção diplomática na guerra contra os portugueses, a Rainha mudou de estratégia. Pediu ao então governador português de Luanda para ser batizada na religião católica apostólica romana. Três teriam sido os são os argumentos que apresentou para ser convertida. Em primeiro, convencera-se de que havia uma relação entre tráfico, o poder e a religião católica. Essa relação fazia Portugal ser uma potência, na visão de Nzinga. Ela raciocinava que a fartura e o poder e a volta de seus inimigos(portugueses) em Luanda se devia parcialmente a religião deles, que, segundo as alegações de seus instrutores, era a única verdadeira fé.
Desse modo, se aceitasse o cristianismo seu povo se tornaria poderoso e apto a derrotar seus inimigos.
O segundo ponto é que a conversão pode ter sido um gesto destinado a aliciar a cooperação do governador para a realização do acordo. Aliado aos portugueses na fé católica, a então batizada Ana de Souza pensou que os Mbundos-Jagas poderiam construir um poder no mundo tal qual os portugueses com entrepostos/colônias nas Américas, Ásia e África...
Assim, em 1622, ela foi batizada numa igreja, em Luanda, em presença do governador, do clero, de oficiais militares, fornecedores, magistrados e povo da cidade. Seus padrinhos foram o Governador e Dona Jerônima Mendes, esposa do capitão da guarda. Nzinga tomou o nome de Ana de Souza, sendo o sobrenome do governador, seu padrinho.
Nzinga, assim, partiu de Luanda em 1623, carregada de presentes para o irmão e de objetos para si mesma e certa de que conquistara um acordo de respeito dos europeus.
Ao voltar para sua aldeia, Nzinga, já católica, falara de maneira entusiástica sobre a nova religião, mais poderosa do que a de Tempa Ndumba, o Deus dos Mbundos. Seu irmão Ngola, não desejando ficar para trás, em relação a irmã, externou certo interesse pela fé católica, diante do que Nzinga escreveu ao Governador, confirmando a aceitação do tratado de paz e solicitando os serviços de missionários.
Neste ano, ela, com 41 anos, tornou-se de fato Rainha de Ndongo, após ter derrotado o irmão na disputa pelo trono que cabia a ela legitimamente. Ele, no entanto, deixara um herdeiro criança, sob cuidados de um poderoso chefe chamado Jaga Kaza Ngoila, com instruções para que o menino fosse criado no ódio à tia.
Nzinga nunca perdoara o irmão pelo assassinato de seu filho e em represália planejou a morte do sobrinho, o que iria também legitimar e consolidar sua posição de poder no reino.
Assim, teria seduzido Kaza, casou com ele em cerimônias possivelmente com sacrifícios humanos, danças e outras atividades típicas dos Mbundos. Após o casamento, com uma desculpa despachou o marido para uma missão diplomática, e na sua ausência, teria ordenado a morte do filho do irmão, se vingando, assim, pela morte de seu filho. Seu novo marido, assustado, fugiu, nunca sendo mais localizado.
Sabedora das profecias sobre sua condição funesta feitas durante seu o nascimento pelos sacerdotes Mbundos, Nzinga transformou o Palácio Real numa das áreas mais seguras do Reino. Ninguém poderia entrar ou sair sem o conhecimento e a permissão dos homens de segurança da soberana.
Para obter acesso ao amplo pátio real, onde estacionava um reforçado contingente de guardas, caminhava-se através de um complicado labirinto de portões e de atalhos. O sistema de segurança e os caminhos eram tão complexos e cansativos, que só uma pessoa familiarizada com a planta do palácio podia alimentar a esperança de obter sucesso em chegar à Rainha.
Segundo Glasgow, no imenso saguão real uma fogueira era mantida acesa com toras e óleo de palmeira. Nzinga trabalhava aí, diariamente, até a meia-noite, discutindo assuntos do estado, e recebendo relatórios acerca da cada atividade significativa do Reino. Neste salão recepcionava seus ministros, chefes, hóspedes estrangeiros e personalidades importantes do Reino. Durante estas recepções, ouvia-se muita música tocada e cantada com acompanhada de gigongos, instrumentos feitos de ferro e fundidos em forma de ferradura.
Vaidosa quanto as roupas e aparência, trazia na cabeça a coroa real, com joias de prata, pérolas e cobre a lhe adornarem os braços e as pernas. Lindos tecidos e roupas eram sua paixão especial e não perdia nenhuma oportunidade de adquirir novas roupas em estilo europeu de mercadores portugueses. Às vezes, ele trocava de traje várias vezes por dia, variando das modas africanas para as portuguesas e vice-versa, até no estilo do penteado. Seus tecelãos estavam constantemente ocupados na costura de vestimentas para sua figura esbelta. De tempos em tempos, ela presenteava generosamente suas camareiras com as roupas usadas.
Quando Nzinga recebia hóspedes estrangeiros tanto ela quanto sua corte se adornavam com dispendiosos trajes e joias europeias e havia farto uso de baixelas de prata, cadeiras e tapetes. Saudava os hóspedes estrangeiros com o selo real de prata na mão e a coroa na cabeça, ocasionalmente até três vezes por semana, segundo Glasgow.
Segundo ele, trezentas aias serviam a Rainha. Eram divididas em grupos e dez, de modo a prover um serviço ininterrupto. Essas moças e mulheres eram proibidas de manter relações sexuais.
Nzinga fazia longas caminhadas matinais durante as quais para sua conveniência, algumas das cem mulheres que costumavam acompanhá-las conduziam às vezes uma rede para a eventualidade de a rainha querer descansar. Outras servidoras carregavam caixas de roupas e material a fim de indicar a importância e a riqueza de Nzinga e para o caso da augusta personagem querer trocar de traje. As criadas eram em geral bem tratadas, recebendo de vez em quando presentinhos de sua ama.
Nzinga não comia muito sendo seus alimentos favoritos a carne de cabra e a de galinha, mas bebia um bocado de vinhos caros e fumava tabaco.
O jantar era precedido de cuidadosa lavagem das mãos numa vasilha, a seguir enxugadas numa toalha. Enquanto comia, Nzinga interrogava seus ministros sobre os negócios do estado. Às vezes, eram usados garfos durante as refeições. No transcurso do jantar e quando ela se recolhia, músicos a entretinham com suas castanholas. Todos os Jagas gostavam de músicas e dança e eram capazes de executá-las de maneira quase contínua, especialmente os bufões e os palhaços. No fim do repasto, dois de seus ministros mais velhos desejavam-lhe longevidade.
Depois do jantar, Nzinga envolvia-se em algum jogo de azar com seus súditos e, em geral, se eles perdiam, eram ressarcidos. Tal era a individualidade de Nzinga, generosa, misericordiosa e cortes, e implacável com os inimigos.
Em sua luta, ela dividia as pessoas como amigas ou inimigas. Assim, os chefes de outros tribos angolanas aliados aos portugueses eram perseguidos, fustigados e até mortos pela Rainha.
Na manha de 17 de dezembro de 1663, adoentada, aos , morria Nzinga, em seu quarto real. Na manha do dia seguinte, quando a multidão viu a cerimônia de entrega real do arco e da flecha a sua filha mais velha Mocambo, percebera que a rainha se fora. O corpo ficou exposto durante 14 dias num ataúde aberto de luto público e apoiado numa almofada. Incenso era queimado no ar. Os missionários liam uma litania todos os dias. O corpo da Raínha estava adornada de joias
Importância de Nzinga segundo os estudiosos:
1.Primeira fonte originaria do nacionalismo africano e da resistência contra a ocupação europeia na África.
2.Inspiradora da luta de guerrilha contra inimigos da África.
Ou como diz Glasgow:
“Nzinga plantou as sementes do protesto e da hostilidade dos africanos contra o colonialismo português no Ndongo. Espantosas analogias são evidentes entre algumas de suas técnicas e aquelas empregadas pelos grupos nacionalistas das décadas de 1960 e 1970; sua intercessão em prol da participação em massa dos Mbundos na luta antiguerrilha, e seu apoio aos líderes da resistência e movimentos clandestinos são uma característica das atuais forças de resistência e de guerrilha em Angola e nos vizinhos países amigos”(nos anos 1960).
Roy Glasgow: NZINGA: RESISTÊNCIA AFRICANA À INVESTIDA DO COLONIALISMO PORTUGUÊS EM ANGOLA(1582-1663). (Perspectiva, SP, 1982).
Nzinga contava com 35 anos quando seu pai faleceu em 1617.
Essa morte, segui-se inevitável luta pelo poder entre ela e seu irmão por cerca de 30 anos. O irmão de Nzinga era chamado de Ngola Mbandi. Era fraco, covarde, mas fazia muita articulação venenosa para impedir que a irmã assumisse o trono.
Ele, então, espalhou boatos segundo os quais se ela assumisse poderia haver terror, tragédia e calamidade no reino. Ou seja, estava se lembrando das previsões que os sacerdotes jagas fizeram quando Nzinga nascera.
Mas ele não podia assumir, pois, era mais novo que Nzinga. Ela era legítima herdeira do trono por ser mais velha, segundo as tradições jagas. Impotente ante às leis Mbundos-Jagas, o irmão de Nzinga matou o único filho da irmã nesta guerra pelo trono.
Neste sentido, ela, antes ligada a crianças, ficou uma mulher fria, e transferiu sua afeição ao filho para irmã mais moça, Moambo, cuja educação e bem-estar ocupou muita parte de seu tempo.
Após uma interrupção diplomática na guerra contra os portugueses, a Rainha mudou de estratégia. Pediu ao então governador português de Luanda para ser batizada na religião católica apostólica romana. Três teriam sido os são os argumentos que apresentou para ser convertida. Em primeiro, convencera-se de que havia uma relação entre tráfico, o poder e a religião católica. Essa relação fazia Portugal ser uma potência, na visão de Nzinga. Ela raciocinava que a fartura e o poder e a volta de seus inimigos(portugueses) em Luanda se devia parcialmente a religião deles, que, segundo as alegações de seus instrutores, era a única verdadeira fé.
Desse modo, se aceitasse o cristianismo seu povo se tornaria poderoso e apto a derrotar seus inimigos.
O segundo ponto é que a conversão pode ter sido um gesto destinado a aliciar a cooperação do governador para a realização do acordo. Aliado aos portugueses na fé católica, a então batizada Ana de Souza pensou que os Mbundos-Jagas poderiam construir um poder no mundo tal qual os portugueses com entrepostos/colônias nas Américas, Ásia e África...
Assim, em 1622, ela foi batizada numa igreja, em Luanda, em presença do governador, do clero, de oficiais militares, fornecedores, magistrados e povo da cidade. Seus padrinhos foram o Governador e Dona Jerônima Mendes, esposa do capitão da guarda. Nzinga tomou o nome de Ana de Souza, sendo o sobrenome do governador, seu padrinho.
Nzinga, assim, partiu de Luanda em 1623, carregada de presentes para o irmão e de objetos para si mesma e certa de que conquistara um acordo de respeito dos europeus.
Ao voltar para sua aldeia, Nzinga, já católica, falara de maneira entusiástica sobre a nova religião, mais poderosa do que a de Tempa Ndumba, o Deus dos Mbundos. Seu irmão Ngola, não desejando ficar para trás, em relação a irmã, externou certo interesse pela fé católica, diante do que Nzinga escreveu ao Governador, confirmando a aceitação do tratado de paz e solicitando os serviços de missionários.
Neste ano, ela, com 41 anos, tornou-se de fato Rainha de Ndongo, após ter derrotado o irmão na disputa pelo trono que cabia a ela legitimamente. Ele, no entanto, deixara um herdeiro criança, sob cuidados de um poderoso chefe chamado Jaga Kaza Ngoila, com instruções para que o menino fosse criado no ódio à tia.
Nzinga nunca perdoara o irmão pelo assassinato de seu filho e em represália planejou a morte do sobrinho, o que iria também legitimar e consolidar sua posição de poder no reino.
Assim, teria seduzido Kaza, casou com ele em cerimônias possivelmente com sacrifícios humanos, danças e outras atividades típicas dos Mbundos. Após o casamento, com uma desculpa despachou o marido para uma missão diplomática, e na sua ausência, teria ordenado a morte do filho do irmão, se vingando, assim, pela morte de seu filho. Seu novo marido, assustado, fugiu, nunca sendo mais localizado.
Sabedora das profecias sobre sua condição funesta feitas durante seu o nascimento pelos sacerdotes Mbundos, Nzinga transformou o Palácio Real numa das áreas mais seguras do Reino. Ninguém poderia entrar ou sair sem o conhecimento e a permissão dos homens de segurança da soberana.
Para obter acesso ao amplo pátio real, onde estacionava um reforçado contingente de guardas, caminhava-se através de um complicado labirinto de portões e de atalhos. O sistema de segurança e os caminhos eram tão complexos e cansativos, que só uma pessoa familiarizada com a planta do palácio podia alimentar a esperança de obter sucesso em chegar à Rainha.
Segundo Glasgow, no imenso saguão real uma fogueira era mantida acesa com toras e óleo de palmeira. Nzinga trabalhava aí, diariamente, até a meia-noite, discutindo assuntos do estado, e recebendo relatórios acerca da cada atividade significativa do Reino. Neste salão recepcionava seus ministros, chefes, hóspedes estrangeiros e personalidades importantes do Reino. Durante estas recepções, ouvia-se muita música tocada e cantada com acompanhada de gigongos, instrumentos feitos de ferro e fundidos em forma de ferradura.
Vaidosa quanto as roupas e aparência, trazia na cabeça a coroa real, com joias de prata, pérolas e cobre a lhe adornarem os braços e as pernas. Lindos tecidos e roupas eram sua paixão especial e não perdia nenhuma oportunidade de adquirir novas roupas em estilo europeu de mercadores portugueses. Às vezes, ele trocava de traje várias vezes por dia, variando das modas africanas para as portuguesas e vice-versa, até no estilo do penteado. Seus tecelãos estavam constantemente ocupados na costura de vestimentas para sua figura esbelta. De tempos em tempos, ela presenteava generosamente suas camareiras com as roupas usadas.
Quando Nzinga recebia hóspedes estrangeiros tanto ela quanto sua corte se adornavam com dispendiosos trajes e joias europeias e havia farto uso de baixelas de prata, cadeiras e tapetes. Saudava os hóspedes estrangeiros com o selo real de prata na mão e a coroa na cabeça, ocasionalmente até três vezes por semana, segundo Glasgow.
Segundo ele, trezentas aias serviam a Rainha. Eram divididas em grupos e dez, de modo a prover um serviço ininterrupto. Essas moças e mulheres eram proibidas de manter relações sexuais.
Nzinga fazia longas caminhadas matinais durante as quais para sua conveniência, algumas das cem mulheres que costumavam acompanhá-las conduziam às vezes uma rede para a eventualidade de a rainha querer descansar. Outras servidoras carregavam caixas de roupas e material a fim de indicar a importância e a riqueza de Nzinga e para o caso da augusta personagem querer trocar de traje. As criadas eram em geral bem tratadas, recebendo de vez em quando presentinhos de sua ama.
Nzinga não comia muito sendo seus alimentos favoritos a carne de cabra e a de galinha, mas bebia um bocado de vinhos caros e fumava tabaco.
O jantar era precedido de cuidadosa lavagem das mãos numa vasilha, a seguir enxugadas numa toalha. Enquanto comia, Nzinga interrogava seus ministros sobre os negócios do estado. Às vezes, eram usados garfos durante as refeições. No transcurso do jantar e quando ela se recolhia, músicos a entretinham com suas castanholas. Todos os Jagas gostavam de músicas e dança e eram capazes de executá-las de maneira quase contínua, especialmente os bufões e os palhaços. No fim do repasto, dois de seus ministros mais velhos desejavam-lhe longevidade.
Depois do jantar, Nzinga envolvia-se em algum jogo de azar com seus súditos e, em geral, se eles perdiam, eram ressarcidos. Tal era a individualidade de Nzinga, generosa, misericordiosa e cortes, e implacável com os inimigos.
Em sua luta, ela dividia as pessoas como amigas ou inimigas. Assim, os chefes de outros tribos angolanas aliados aos portugueses eram perseguidos, fustigados e até mortos pela Rainha.
Na manha de 17 de dezembro de 1663, adoentada, aos , morria Nzinga, em seu quarto real. Na manha do dia seguinte, quando a multidão viu a cerimônia de entrega real do arco e da flecha a sua filha mais velha Mocambo, percebera que a rainha se fora. O corpo ficou exposto durante 14 dias num ataúde aberto de luto público e apoiado numa almofada. Incenso era queimado no ar. Os missionários liam uma litania todos os dias. O corpo da Raínha estava adornada de joias
Importância de Nzinga segundo os estudiosos:
1.Primeira fonte originaria do nacionalismo africano e da resistência contra a ocupação europeia na África.
2.Inspiradora da luta de guerrilha contra inimigos da África.
Ou como diz Glasgow:
“Nzinga plantou as sementes do protesto e da hostilidade dos africanos contra o colonialismo português no Ndongo. Espantosas analogias são evidentes entre algumas de suas técnicas e aquelas empregadas pelos grupos nacionalistas das décadas de 1960 e 1970; sua intercessão em prol da participação em massa dos Mbundos na luta antiguerrilha, e seu apoio aos líderes da resistência e movimentos clandestinos são uma característica das atuais forças de resistência e de guerrilha em Angola e nos vizinhos países amigos”(nos anos 1960).
Roy Glasgow: NZINGA: RESISTÊNCIA AFRICANA À INVESTIDA DO COLONIALISMO PORTUGUÊS EM ANGOLA(1582-1663). (Perspectiva, SP, 1982).













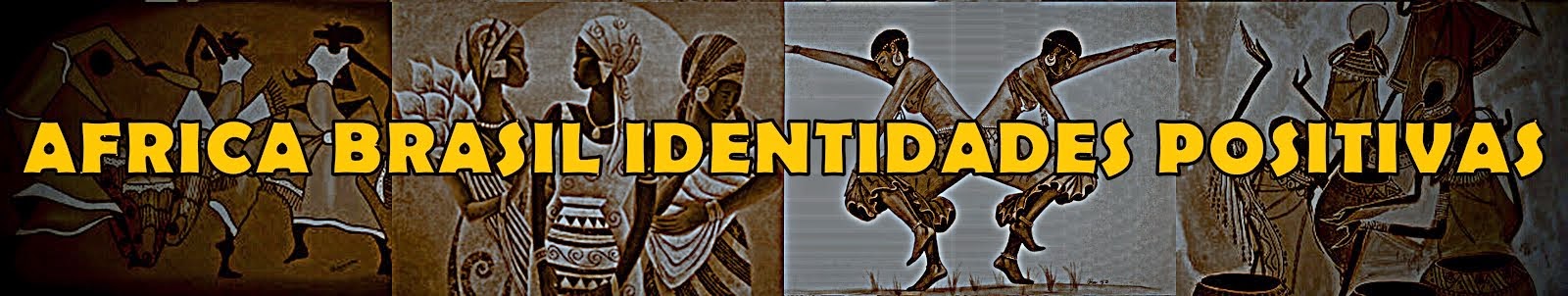
0 comentários:
Postar um comentário